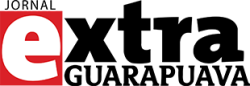A sutilidade da violência institucional

Em uma reunião departamental fui interrompida 14 vezes pelos meus colegas de trabalho ao fazer a fala inicial de abertura e meu vice não teve o mesmo tratamento. Foto: Reprodução ilustrativa.
O sexo frágil procura romper com as amarras sociais e a imagem caricata de que a mulher é sempre vulnerável, indefesa e inconstante. No ambiente profissional toda instabilidade emocional feminina deve-se a uma tpm eterna, bem como no recinto escolar, onde o desmerecimento também é cruel e presente. Na vivência familiar, religiosa, artística e intelectual, nos movimentos sociais, culturais e onde quer que existam lideranças, é notável o silenciamento e/ou a interrupção de representantes femininas. Se até mesmo a violência física e o feminicídio puderam ser minimizados, a violência institucional é ainda mais invisibilizada.
A negação de direitos, nem sempre consideradas violências define a violência institucional, que também traz em sua raiz as desigualdades de gênero, materializada tanto nas relações de trabalho (privado ou público), quanto no acesso a serviços constitucionalmente garantidos. Trata-se de uma prática que se esconde atrás de discursos, no atendimento de mulheres frente uma situação de denúncia, no caso da violência obstétrica, assédio sexual e moral e se refere também a qualquer prática hostil de uma prestadora de serviços públicos como hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias, judiciário. Lugares que deveriam proteger e acabam por perpetuar a violação.
Quando as violências saem do âmbito público e passam para o espaço privado, como a doméstica ou familiar, o silêncio é ensurdecedor e a naturalização de algumas formas de violências cotidianas impede que as mulheres se reconheçam na sociedade ou na sua própria casa. Para que isso se transforme, é urgente que haja aprofundamento do debate em todos os espaços e criar as condições para que todas compreendam que tais violências são consequência de uma construção histórica, social, cultural, política, econômica, que estabelece papéis diferenciados para que mulheres e homens atuem em campos distintos.
 “Todos os dias sou colocada à prova (Mariane). Foto: Aline Koslinski
“Todos os dias sou colocada à prova (Mariane). Foto: Aline Koslinski
No tocante profissional, Mariane Abramoski de 33 anos é mecânica de carros a 17 anos e já sentiu os efeitos do machismo sobre sua atuação. No início da minha carreira sofri com preconceito sim, com comentários do tipo ‘mulher não sabe nem dirigir, imagina arrumar o carro’, ou chegavam na minha mecânica e me viam sair toda seja debaixo de um carro e perguntavam se não tinha algum mecânico para atendê-lo, relata a profissional e reitera: todos os dias sou colocada à prova (risos) e acabo resolvendo alguns defeitos por ser mais detalhista no trabalho.
Tamires Veiga de 38 anos é professora universitária e hoje ocupa o cargo de chefe de departamento na universidade que leciona. Em uma reunião departamental fui interrompida 14 vezes pelos meus colegas de trabalho ao fazer a fala inicial de abertura e meu vice não teve o mesmo tratamento. Observo que me viam incapacitada para ocupar aquele lugar e sentiam a necessidade de me corrigir, porém na mesma reunião manifestei minha insatisfação e me mantive firme, hoje não passando tanto por isso. É preciso demonstrar força, frisa.
Katia Burko de 48 anos é empresária e conta que não teve nenhuma situação de silenciamento na vida profissional. Todas as situações de machismo e misoginia pelas quais passei na vida se restringiram a relações pessoais, à vida privada, aponta a empresária e elucida sobre formas de desconstruir paradigmas. É importante que as mulheres se aprofundem, estudem os conceitos da misoginia a partir de livros, artigos, entrevistas para que elas identifiquem os primeiros sinais de relacionamentos abusivos para evitar o prolongamento desse tipo de relação o poder se proteger.
“Trabalhar com as mulheres na busca de um caminho de liberdade, independência psicológica, emocional e não só financeira, pois ficariam mais seguras e automaticamente evitariam a manutenção de relações, sejam elas profissionais ou pessoais, onde existam esses traços de machismo, ressalta Katia Burko.
É como no caso de Scheyla Oliver de 33 anos, rapper e capoeirista que já se sentiu menos pela questão de gênero e até mesmo silenciada por algum tempo dentro dos movimentos sociais e culturais que participa. Sobre situações de assédio e coação, Scheyla vê que padrões estão sendo rompidos. Ainda vivemos em uma sociedade machista e preconceituosa, mas cada dia vejo mais mulheres empoderando-se e cada vez e mais ocupando espaços, observa.
Dessa forma, Mariane menciona sobre como superar a subestimação: optei por mostrar a minha capacidade de mulher trabalhando e conseguindo ser reconhecida pelo que faço. Finaliza.
 O coletivo atua em Guarapuava a cerca de 4 anos. Foto: Reprodução Facebook.
O coletivo atua em Guarapuava a cerca de 4 anos. Foto: Reprodução Facebook.
Flávia Cordeiro de 33 anos faz parte do Coletivo Feminista Claudia da Silva, em Guarapuava e fala de como se reconstruir a partir dos movimentos sociais. Eu considero muito importante nessa minha luta diária contra o machismo, o papel imprescindível do coletivo feminista que construo, porque nele encontrei uma rede de apoio e me aproximei de pessoas que tinham a mesma frustração que eu e isso me ajudou. Só resolvemos um problema quando falamos dele, quando mexemos na ferida e isso resinificou minhas relações, e reitera:
“é necessário saber quem eu sou sempre.
A eliminação da violência institucional contra as mulheres requer uma transformação profunda da sociedade e de nós mesmos. Precisamos desconstruir a cultura da indiferença, do medo e da naturalização das desigualdades sociais, dos atos de violência, de preconceitos de gênero e etnia, geracionais e de orientação sexual. É preciso união e mobilização para o enfrentamento, organização para formar e informar, participação política ativa em espaços de poder e decisão, cientes de que a violência institucional é uma ameaça real as nossas vidas e a nossa democracia.
Série de reportagens sobre a violência contra a mulher, confira o editorial, a matéria I e matéria II.